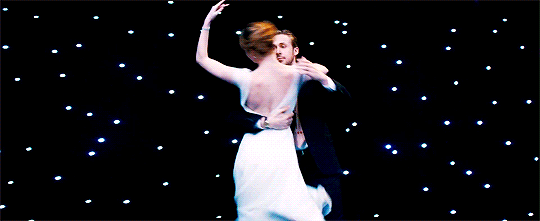Musicais não são descolados. Há um motivo pelo qual os caras menos populares da escola se reuniram em torno do clube de teatro musical em Glee, como tem feito em muitas escolas por todas as cidades dos EUA há tanto tempo. Vista como a obsessão do público queer, o musical é um nicho quase tão específico quanto o terror trash ou o torture porn – a não ser, é claro, quando não é. Essas raras ocasiões em que o apelo de uma obra musical, seja no cinema ou no teatro (aconteceu recentemente com o fenômeno Hamilton, da Broadway), ultrapassa os limites do nicho, são como a vingança dos nerds que sentam no fundo da sala: “Viu só, nós também fazemos coisas legais!”.
É o fenômeno que vejo acontecendo com La La Land, um musical no sentido mais clássico da palavra, que tem um diretor que compara seus protagonistas, Ryan Gosling e Emma Stone, com Fred Astaire e Ginger Rogers. Ainda assim, é o principal candidato do momento ao Oscar 2017, e vem do mesmo cineasta que fez cinéfilos machões se derreterem pelo ritmo e pela energia masculina de Whiplash em 2014. Em suma, para os geeks de musical por aí, é uma vingança deliciosa por todas as vezes em que toparam com algum cinéfilo que declara seu ódio pelo gênero orgulhosamente – como você vai fazer isso sem ser cool agora, hein?

Houve um tempo, no entanto, em que Hollywood era obcecada por musicais – faz 70 ou 80 anos, mas a Era de Ouro do gênero veio com Fred Astaire e Ginger Rogers, o eterno casal 20 dos musicais, juntos em títulos como O Picolino (1935) e Ritmo Louco (1936), enquanto o diretor Bubsy Berkeley e a dupla Rodgers & Rammerstein carregaram a tradição em filmes como A Bela Ditadora (1949), Sete Noivas para Sete Irmãos (1954), Oklahoma! (1955) e Carrossel (1956). Até os anos 60 foram prolíficos para o gênero, com clássicos como Mary Poppins (1964), Minha Bela Dama (1964) e A Noviça Rebelde (1965).
A mudança de paradigma veio mesmo durante os anos 70, quando a chegada do cinema urbano construído em cima de thrillers e filmes de protesto de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Oliver Stone e seus comparsas invadiu Hollywood de assalto (um movimento que começou com Bonnie & Clyde, em 1967, vale lembrar), trazendo um ar mais conectado com as angústias e contestações da população americana à época. Desde então, o musical manteve-se no olhar periférico de todo mundo, lançando hits de vez em quando (Grease e Os Embalos de Sábado à Noite vieram nos anos 70, afinal), mas nunca tomando o holofote principal – até um australiano chamado Baz Luhrmann mudar essa história.

Revoluções por minuto
Moulin Rouge! (assim, com o ponto de exclamação mesmo), lançado em 2001, era na verdade o terceiro ato de uma trilogia para Luhrmann – a chamada “trilogia da cortina vermelha” explora situações teatrais no cinema, o luxo e o exagero que se tornaram marca de Luhrmann, e temas de amor condenado e idealismo. Vem Dançar Comigo (1992) e Romeu + Julieta (1996) vieram antes, mas nenhum envelheceu melhor ou sobreviveu mais no imaginário popular do que Moulin Rouge! e sua inesquecível protagonista, Satine (Nicole Kidman).
O primeiro musical assumido de Luhrmann é uma colagem vibrante de cultura pop que mistura canções de David Bowie, The Police, U2, Whitney Houston, Marilyn Monroe e mais todo mundo que você conseguir pensar com uma história de época e uma sensibilidade amalucada e à flor da pele que resulta em um espetáculo absurdo (e absurdamente sublime) de cinema. Moulin Rouge! é cinema-extravagância de primeira, com uma narrativa clássica e tocante “maculada” por tintas modernas, um enorme mash-up de referências que funciona muito melhor do que deveria.
Poucas vezes antes e desde então um artista se apossou de obras alheias para criar algo tão original e marcante – é um feito quase digno de Andy Warhol que Luhrmann conseguiu aqui. Enquanto “Roxanne”, do The Police, vira um tango rasgado e insuportavelmente intenso emocionalmente, “Like a Virgin”, da Madonna, ganha ares de comédia pastelão em uma interpretação espetacular de Jim Broadbent. Moulin Rouge! nos lembrou do poder de uma história de amor, e do poder do cinema musical, uma mistura divina de artes que não pode ser ignorada como foi por tanto tempo.
Feito por meros US$50 milhões (o que é impressionante se você observar os cenários e o elenco do filme), o filme rendeu quase US$200 milhões na bilheteria mundial, e ganhou 2 Oscar em 8 indicações – incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Atriz. E a partir daí, Hollywood parece ter tido um flashback para os anos 30/40, quando musicais eram os grandes filmes do ano, todos os anos. O problema é que, 80 anos depois, não era mais assim que a banda tocava.

O caminho de La La Land
Por um instante depois de Moulin Rouge!, parecia mesmo que o musical era imbatível de novo. No ano seguinte, em 2002, Chicago não só faturou mais alto que o filme de Baz Luhrmann (US$300 milhões na bilheteria mundial) como foi o primeiro musical desde Oliver! (1968) a ganhar o Oscar de Melhor Filme. A partir daí, mesmo os filmes musicais menos amados pela crítica, como O Fantasma da Ópera (2004), Dreamgirls (2006), Hairspray (2007), Sweeney Todd (2007) e Mamma Mia! (2008) faturaram alto, com esse último batendo o recorde do gênero ao arrecadar US$609 milhões ao redor do mundo.
Desde então, no entanto, é meio difícil pensar em um grande musical que tenha feito o barulho prometido, com a exceção de Os Miseráveis (2012), que rendeu alguns Oscar para o estúdio e mais de US$400 milhões de bilheteria mesmo sendo uma aposta arriscadíssima – um musical completamente cantado, deprimente, de época. Caminhos da Floresta (2014) não emplacou tanto quanto o esperado, embora não possa ser considerado um fracasso, enquanto Rock of Ages (2012) afundou seriamente na bilheteria.
A lição é que o público entende musicais como entende qualquer “moda” que Hollywood busca enfiar-lhes guela a baixo de quando em quando: ou seja, um núcleo específico de pessoas aparece para vê-los sempre, independente do que aconteça, mas para atingir um público para além desse nicho é preciso fazer de cada musical um “evento”, e investir na produção e promoção deles. Além, é claro, de garantir a qualidade do produto final. É isso que La La Land parece estar fazendo – e é por isso que ele parece tão similar ao que Moulin Rouge! representou 15 anos atrás.
Seja Fred Astaire e Ginger Rogers, Nicole Kidman e Ewan McGregor, Catherine Zeta-Jones e Renée Zellweger ou Ryan Gosling e Emma Stone, o cerne de um musical está sempre nos nomes envolvidos nele. Como na Broadway, a curiosidade e a ansiedade para ouvir determinados nomes soltarem a voz é um grande atrativo, e a fascinação provocada pela produção e suas escolhas musicais também. Hamilton é um hit porque usa hip-hop para contar sobre os fundadores dos EUA, enquanto La La Land promove uma volta à era do jazz e ao romantismo simples e machucado particular desse estilo de música.
Assim como tudo em arte, o que faz o musical especial é justamente o que o faz diferente de todo o resto – e essa, meus caros, é a vingança final dos menos descolados da escola.