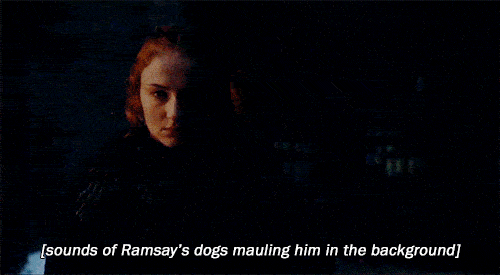As séries de televisão são o formato de narrativa definidor da nossa época. Com poucas exceções, são delas que nascem os fenômenos culturais mais universais, e é delas que vem as histórias mais provocativas e representativas da função da arte como espelho social. Vivemos em um mundo em que Game of Thrones tem mais impacto para o discurso cultural do que as grandes franquias de Hollywood, e em um mundo em que a produção televisiva é mais obsessivamente analisada e profundamente considerada por críticos do que o discurso cinematográfico.
Em 2016, isso nunca foi tão verdade. A TV americana mais uma vez se superou em termos de produção – com a multiplicação de plataformas, seja na TV aberta e fechada ou nos serviços de streaming, nunca se fez tantas séries quanto esse ano. Focos menores de audiência relativizaram o que significa “sucesso” dentro da produção televisiva, o que permitiu títulos como Take My Wife, comédia do SeeSo (um serviço de streaming dedicado à comédia), adquirirem uma aura de produtos cult e ganharem renovações de bate-pronto.

Enquanto isso, as emissoras e canais alternativos que apontavam para um caminho mais “esnobe”, no sentido de eliminar produções de menos prestígio, levaram broncas do público. A Amazon recentemente cancelou Good Girls Revolt após a primeira temporada, mesmo a série sendo reportadamente um sucesso de público – pelo que parece, o chefão da empresa tem o hábito de “expulsar” criadores que não lhe agradam, e a showrunner Dana Calvo foi uma delas. A conexão entre o público e a produção é mais direta e imediata em tempos de streaming, como podem testemunhar tanto a Amazon quanto a CW, que sentiu a ira do público (especialmente o LGBT) quando matou a personagem Lexa, de The 100.
Nessa e em várias outras capacidades e sentidos, a televisão se consolidou como a forma de narrativa pela qual a sociedade ocidental se assistiu, seja de forma direta ou indireta, em 2016. Em um ano conturbado, que trouxe desconfortos políticos de proporções épicas, confrontos ideológicos quietos e barulhentos, insatisfação de todos os lados do discurso social, é claro que a televisão refletiria isso, mas o caleidoscópio de opções bem colocadas e elaboradas que encontramos continuou sendo uma surpresa. O sucesso ou o fracasso de uma série significava e dependia de muito mais, de repente, do que no passado – e isso é ótimo.

Escapismo é para os fracos
Há de se fazer um argumento de que TV nunca foi exclusivamente escapismo. Nos anos 50 e 60, nos tempos de I Love Lucy e A Feiticeira, servia para solidificar normas sociais de feminilidade e dar apoio a um sistema capitalista que ainda começava a prosperar. Nas décadas seguintes, o retrato de situações sociais diferentes marcou uma tomada de consciência das rachaduras desse sistema, mesmo que ainda de forma afetuosa – vide as sitcoms Tudo em Família e Roseanne, por exemplo, ou os dramas policiais Hill Street Blues e Law & Order.
O entrelaçamento entre a TV e o discurso social sempre existiu, mas parece que na nossa época ele é mais íntimo, e acima de tudo mais intenso – sem dúvida pela presença da mídia social e do diálogo global que ela causa. Nessa paisagem, séries menores como Lady Dynamite, da Netflix, se mostram corajosos retratos tragicômicos dos distúrbios psíquicos de sua criadora; narrativas nostálgicas e de nicho como Stranger Things e Westworld ganham proporções inesperadas para seus discursos. Tudo é amplificado. Na era da Peak TV, nossa apreciação dessa forma de narrativa também parece estar em seu auge.

Nesse cenário, quem chega atrasado não ganha perdão. Sitcoms tradicionais com protagonistas “másculos”, como Man with a Plan e Kevin Can Wait, não encontraram todo o público esperado pela CBS, a mais tradicionalista das emissoras americanas. Ao invés disso, o inesperado hit da temporada é This is Us, um drama de família incansavelmente diverso e com mensagens complicadas e progressistas. No lado da comédia, a surpresa é Speechless, que coloca um jovem com deficiência no centro da história e deu nova vida ao bloco de sitcoms da ABC anos depois de Modern Family, que continua um hit incansável com suas posições cautelosamente liberais – inclusive, na oitava temporada, trazendo um dos primeiros atores infantis transexuais para a TV.
Da forma como eu estou pintando, pode parecer que a indústria é perfeita, e de forma alguma essa é a lição. A lição é que, como reflexo da nossa sociedade, o que ajudamos ou apoiamos na TV tem um impacto muito decisivo no mundo, mesmo que em 2016 não pareça ter tido – em um ano em que a indústria enfaticamente progrediu em direção a um ambiente mais diverso e interessante, mesmo que para seu bem financeiro, vimos uma retaliação política grande na forma de um discurso reacionário absolutamente onipresente. De muitas formas, uma coisa é consequência da outra – o progresso traz um ressentimento impulsivo –, mas usada da forma certa a TV é um instrumento de discurso poderoso, especialmente a longo prazo, em termos de formação ideológica e política.

Falando de opressão
Não é a toa que tantas grandes produções do ano falaram sobre opressão. Orphan Black se abriu para essa parte da sua premissa na 4ª temporada, a penúltima no ar, e revelou novas profundidades sobre sua premissa e personagens ao analisar a forma como elas lidam com outros buscando controle sobre seus corpos, mentes e vidas. Poucos poderiam prever que a série de ficção científica com a atriz prodigiosa se tornaria uma pièce de resistance feminista, mas esse é 2016, quando arte voltou a ser uma forma de resistência – e pode parecer resistência fraca quando olhamos para o ambiente político em que entramos, mas é fundamental para a forma como nos veremos e nos pensaremos no futuro.
Game of Thrones fez sua parte com uma sexta temporada mais focada e inteligente, que deu rumo a seus personagens e também explorou com mais curiosidade os caminhos de suas temáticas – em seu sexto ano, a série da HBO foi cheia de personagens dizendo “basta” de formas violentas moldadas pelo ambiente hostil. Foi o que Daenerys fez ao queimar os barcos dos escravocratas que desafiavam seu reinado e finalmente partir para Westeros; foi o que Cersei fez ao literalmente queimar seus inimigos e se tornar rainha; foi o que Jon Snow fez ao perceber que não mais acreditava nos votos da Patrulha da Noite; e também foi o que Arya Stark fez ao tomar vingança em suas próprias mãos sem se importar com as regras dos Homens Sem Rosto.

Aconteceu também em Westworld, esse hit inesperado da HBO, que conversou conosco sobre a natureza do nosso mundo, da nossa sociedade e das nossas vidas, muito mais do que sobre a natureza da nossa humanidade. Estruturado como um labirinto, Westworld foi feita sob medida para nos mostrar um universo em que o deleite de poucos é o eterno sofrimento de muitos, e de formas simbólicas: como servos (Bernard, um homem negro), objetos sexuais (Maeve, uma mulher negra) ou estereótipos limitantes (Dolores, uma mulher). Menos do que uma análise de humanidade, Westworld é uma condenação do que essa humanidade construiu, e uma celebração do que ela pode destruir – a única forma de sair do labirinto é botando as paredes abaixo.
Outros retratos de opressão não faltaram na paisagem da TV de 2016: em American Crime Story, o produtor Ryan Murphy e os roteiristas Scott Alexander & Larry Karaszewski analisaram com coragem a ferida das tensões raciais nos EUA e em toda a civilização ocidental, assim como a obsessão pela celebridade e o machismo; em The Night Of, Richard Price e Steven Zaillian vasculharam o sistema judiciário e saíram com um retrato da forma como todo o pragmatismo exigido de uma sociedade industrialmente estruturada nos prende em comportamentos confortáveis mas, quase sempre, destrutivos.
Eu poderia ficar aqui para sempre. Comédias viraram veículos políticos e sociais (vide Atlanta, Insecure, Divorce, a já citada Take My Wife), e dramas cutucaram feridas abertas na política americana (House of Cards, Scandal, Veep, etc). Em um ano terrível, a TV excepcional que produzimos foi espelho condenador, martelo moldador e refúgio revelador de um mundo ainda em construção. Que em 2017 ele continue a caminho.